'UMA LONGA VIAGEM...COM MARIA FILOMENA MÓNICA'
“Uma
longa viagem com…Maria Filomena Mónica”, de João Céu e Silva com Maria Filomena
Mónica
Cursou Filosofia, doutorou-se em Sociologia, o que a apaixona é a História e, dentro desta, a biografia colhe especiais favores do seu
contentamento intelectual. E, reconhecendo, neste contexto, alguma (inevitável)
dimensão subjectiva na aproximação às personalidades que (re)trata, Maria Filomena Mónica deixa o tom, não
raro de forte traço impressionista,
para o diálogo com João Céu e Silva,
no mais recente volume da série “Uma viagem com” – que, aliás, no penúltimo
número, havia gravado as palavras do homem que pairará, agora, em permanência,
sob a conversa e as memórias da entrevistada: Vasco Pulido Valente.
Se a saudade (o sentimento de) não é um exclusivo português, o que (novamente) importa refutar circunstanciando – “é uma ideia que faz parte do que se transmite em gerações sucessivas e ninguém a quer contestar. Não é só nossa e existem palavras que designam o mesmo fenómeno noutras línguas – os turcos têm uma palavra, ozlem, que exprime o mesmo. O que é explicável em povos que tinham muita emigração, como é o nosso caso e o do País Basco, que também tem um termo como o mesmo significado [herri-mina] (p.109)” -, por outro lado, Mena Mónica, como prefere ser tratada, aceita fazer generalizações acerca dos portugueses (que, regista, assumirão, em boa medida, uma feição de tipo melancólico, mesmo que, e em simultâneo, diga que “não acho que exista uma coisa chamada Portugal, afirmar que Portugal é assim ou assado é um disparate”, p.112): “temos um olhar triste e vamos para a cama muito cedo [iremos, mesmo, neste tempo de insónias e redes sociais omnipresentes?]. Basta que nos comparemos aos espanhóis, cuja alegria é chocante para quem vai de Portugal. Há qualquer coisa nobre na melancolia, que é a percepção de a vida ser curta e não necessariamente fácil, portanto é o olhar para uma vida finita. Os países que têm uma grande emigração e são pobres podem ser melancólicos e líricos. Isso contrasta muito com o que se passa em Espanha, que (…) possui uma consciência imperial mais alegre” (pp.113-114). A maioria da população portuguesa, na percepção da investigadora, é “inculta, pobre, invejosa” (p.24; a população inglesa analfabeta, em 1640, era a mesma do que a portuguesa três séculos volvidos); possíveis heróis nacionais não o são (verdadeiramente) por, desde logo, ignorância: mesmo Camões, “nem suscita ódios ou admiração” (por “desconhecimento”). Eça de Queiroz – sobre o qual escreveu uma biografia, com recensões no Times Literary Supplement ou na New York Review of Books, e que lhe custou forte tensão com alguns dos mais renomados queirosianos da nossa academia [o choque maior com Carlos Reis] - é o português que mais admira (p.27), contrariando, com essa postura (“Eça é o homem da minha vida”), uma certa lógica nacional: “em Portugal, quando as pessoas morrem são logo esquecidas” (p.28). Em vez de “Os Maias”, obra “muito difícil e longa”, de Eça de Queiroz – “fechado, altivo, tinha-se em muito boa consideração” (p.48), mas não era snobe; “bastante púdico e reservado a nível emocional” (p.60), oriundo de uma família de juristas, cursou Direito; trabalhou no jornalismo mas dedicou-se, em definitivo à diplomacia; estava sempre a precisar de dinheiro, frequentador de bordéis, era contrário à União Ibérica e, em carta privada a amigo brasileiro, manifesta-se contra o tratamento dado pelos franceses a Dryfus; não é certo que não se interessasse pelos pobres, tendo, enquanto cônsul de Havana, enviado relatórios sobre o modo como eram tratados os imigrantes chineses pelos fazendeiros espanhóis (“tratados como cães”), alertando para os vistos passados pelas autoridades portuguesas; e no âmbito da escrita, o absoluto domínio da ironia, “arte que muito poucos escritores portugueses” alcançam (pp.50-51), o maior e melhor escritor português moderno (p.55) - entende que “O crime do padre Amaro” ou “Alves e Companhia” poderiam ser propostos para leitura dos alunos portugueses do Ensino Secundário (deixando-se, simultaneamente, a formatação de se seguir os livros de resumos como até aqui). Maria Filomena Mónica dará algumas aulas sobre Eça de Queiroz [que, já agora, não escreveu a frase, na atualidade tantas vezes partilhada nas redes sociais, mas apócrifa ‘Os políticos e as fraldas são semelhantes, porque possuem o mesmo conteúdo’ – “alguém a inventou, pô-la a circular e os portugueses gostaram e acreditaram que era dele”, p.73], no Ensino Superior, mas ninguém queria ler “uma única linha do autor (…) Recusaram-se a ler um livro sequer durante o semestre letivo e isso fez-me perguntar o que estava ali a fazer” (p.91). Esta passagem de “Uma longa viagem com Maria Filomena Mónica”, fez-me recordar aquilo que Onésimo Teotónio de Almeida costuma registar sobre convites de universidades portuguesas (para que o académico dê uma dada formação, um seminário, etc.) e da proposta de leitura…que redunda, em chegando ao concreto contacto com universitários, “na terceira vez que a mesma avó morreu” [todo o tipo, ou recorrência, de desculpas para nunca se ler, nomeadamente o livro combinado, para que o agendado diálogo possa ocorrer, e os receptores-interlocutores (previstos para o mesmo) estejam dentro da matéria sobre a qual se discorrerá…exemplo muito contrastado com a experiência que o Professor tem com os seus alunos na Brown]. Sem embargo, pontua Filomena Mónica, não “me venham com tretas a dizer que os jovens são todos umas bestas porque não é verdade, atualmente a escolaridade é muito diversificada e, em percentagem, há muito mais jovens cultos hoje do que no meu tempo” (p.109).
Maria Filomena Mónica não apenas traça um quadro comparativo entre portugueses e outros povos (tidos, pela investigadora, como mais “alegres” ou “vivos” do que estes, como acabámos de observar), como deixa uma antinomia entre o que reclama das “elites” e o que compreende no “povo”: “estudar História de Portugal dá trabalho, tem de se ler, coisa que a maior parte dos portugueses não faz porque ganha pouco e tem uma vida difícil. O que me custa é a elite ser tão analfabeta” (p.136). Aliás, significativamente, os discursos na Assembleia da República são maus “devido à falta de cultura e de valorização da retórica” (p.192).
Há, nos portugueses, um medo pequeno-burguês de que se assinale algo que correu mal ou possa envergonhar ao longo (do relato) da vida (daquela dada pessoa [falando esta na primeira pessoa]) – apesar de todos os mortais, ao longo da sua existência, aqui como em qualquer outra parte do mundo, passarem por momentos de “sucessos e [de] falhanços” (p.36) -, o que faz com que as auto-biografias que por cá campeiem sejam aborrecidas (na medida, pois, reitera-se, em os que se olham ao espelho público rasuram tudo o que não condiga/condiz com o exitoso). Preferimos que “não se fale bem nem mal” de nós (p.30). Eis o motivo, também, pelo qual causou tanto “escândalo” no país a (porém, ou talvez por consequência, constantemente reeditada) auto-biografia de Maria Filomena Mónica (“Bilhete de Identidade”, Aletheia, 2005), de “portas escancaradas” e, portanto, sendo contraponto ao lero-lero habitual. O escritor e jornalista João Céu e Silva assinala, a propósito: se o leitor resistir a uma redutora apropriação voyeurística de Bilhete de Identidade, poderá compreender como no destapar da vida da autora se oferece muito mais - um considerável e conseguido retrato de uma época e de uma geração (em especial, aquela situada entre as “classes altas” da população portuguesa, ao tempo do Estado Novo; critério, este, o de fornecer um retrato e compreensão de uma época, aliás, justamente sublinhado por Vasco Pulido Valente, na série de entrevistas com Céu e Silva, como aferidor de uma boa (auto) biografia). Filomena Mónica inspira-se em Mary McCarthy (ativista de esquerda norte-americana que publicara “Memories of a Catholic Girlhood”, de 1957; correspondeu-se, celebremente, com Hannah Arendt) nessa exposição do “eu” – “chocou os portugueses, porque a maior parte dos ensaístas não usa a primeira pessoa no que escreve” (p.30) -, entre vários outros autores do mundo anglo-saxónico, onde este tipo de escrita e revelação são frequentes (e não anatemizadas). Se em tempos de grande exposição em linha se questiona, e muito, neste século, o fim da privacidade (ou a reconfiguração do público/privado, mesmo que ao longo dos tempos, da humana caminhada, menos humanos do que se possa pensar tivessem tido direito a uma clara esfera privada protegida do olhar ou conhecimento dos demais) como valor civilizacional (deitado, agora, fora, voluntária ou inconscientemente), a confiança dos mais próximos adquirida, em alguns casos pelo menos, pela perspectiva da não exposição (futura) do passado em conjunto (legitimidade de exposição de terceiros e sua intimidade, arguida como inexistente, pelos críticos de “Bilhete de Identidade”), esta opção suscitou sérios debates e dilemas (permanecerá a mágoa em Filomena Mónica as amizades definitivamente perdidas, como a que sucedeu com VPV – que, todavia, estaria, durante a redacção destas, a par, e inclusivamente encorajaria, estas ‘memórias’ -, para lá das feridas com a própria família).
Aquela que foi (é?) a “rapariga de minissaia, loura e gira” irrita-se com o facto de (que), num instante, “somos todos pedófilos e vítimas de assédio sexual”; no entanto, fazendo jus à sua “fama” de mulher forte (uma carapaça para o exterior, sendo a retratada mais frágil do que se pensa, sublinha, p.252), sem vitimizações fáceis – embora não deixe de vincar que “lutei o dobro do que teria lutado se fosse homem” (p.20), refere que a (única) vez na vida em que foi objeto de uma tentativa de violação, repeliu o agressor com um pontapé e este fugiu (p.93).
António de Oliveira Salazar “compreendeu muito bem quem eram os portugueses”: sendo de origem camponesa, sabia-os “desconfiados, poupadinhos e com um pé de meia, e não queriam agitações”, valorizando a “religião” (p.34). Salazar foi “um dos piores portugueses e ao mesmo tempo um dos mais inteligentes”, alguém que “escrevia muito bem” (p.33). Ainda assim, “uma prosa antiquada e fradesca”, à qual, de resto, nem a melhor literatura portuguesa escapa (“a escrita portuguesa, mesmo a melhor, é muito pretensiosa”, p.37). O Presidente do Conselho, porém, ao contrário do que tantas vezes se repete, não era “imune a cunhas”: “isso é falso, dependiam da origem. Em princípio, não gostava que lhe fizessem pedidos, porque era soberbo, mas quando a ponte sobre o Tejo chega a Alcântara tem um desvio esquisito, e porquê? Porque os marqueses de Sabugosa tinham ali uma quinta grande e não queriam que os pilares destruíssem o jardim. E o Salazar cedeu para que não ficassem aborrecidos” (p.35) [cf. “Salazar confidencial. A história secreta da rede de cunhas e favores do Estado Novo”, Marco Alves, Ideias de Ler, 2023]. Não houve um escritor que “retratasse bem a ‘alma portuguesa’; no máximo, o Jacinto de “A Cidade e as serras”” (p.265).
Sem feitio para militante de grupo, esteve 30 anos sem ir a uma festa (e há 5 que não saía de casa, agora que tem cancro - tendo recentemente estado em jantar a convite do Presidente da República).
Na Universidade “não aprendi nada”, com excepção, já à beira da conclusão da licenciatura (4º ano de faculdade), de uma cadeira, ministrada por um professor espanhol que, em lhe fazendo uma prova oral sobre Leibniz, a questionou se estaria a “gozar” com ele (dado o conjunto de generalidades e invenções a que recorria, sem nada de concreto e substantivo atinente ao autor referir – ao que Mena protestará, indicando que tal método lhe tinha permitido sempre passar e fazer boa figura. A personalidade que como professor admirará, pela cultura clássica exibida, seria a do Padre Manuel Antunes. Diversamente, Jorge Borges de Macedo, com “uma costela sádica”, foi “o professor que mais me aterrorizou na Faculdade de Letras”, p.29). Em Oxford (para onde vai estudar a Sociologia que Salazar aqui proibia – como proibida era, por exemplo, na Grécia da ditadura dos coronéis) é obrigada a ler, sistematicamente, novos livros e, nessa decorrência, adquirirá um grande interesse pela investigação em História (apesar do doutoramento em Filosofia). História que é, ainda e contudo, confessa, uma forma (psicológica) de compensação: “quando estou desiludida com o meu país, volto ao passado” (pp.239-240).
Politicamente, Maria Filomena Mónica entende que aquilo que distingue esquerda e direita é o tratamento dado à pobreza e desigualdade (“a definição do que é ser de direita e de esquerda foi vaga e estranha desde a origem, porque derivava do lugar em que os constituintes franceses se sentavam na Assembleia Nacional Legislativa após a Revolução Francesa. Não era uma definição ideológica desses grupos e, como era uma revolução muito tumultuosa, em que os heróis caíam todos os dias, é difícil dizer se Danton era mais à esquerda ou mais à direita. O que interessava era que o Robespierre não gostava dele e por isso acabou na guilhotina. Eles estavam contra o poder monárquico e foi uma revolução sangrenta, o que impede de aplicar os termos «direita» e «esquerda» à Revolução Francesa. Eu continuo a achar que existe esquerda e direita – em Portugal existe certamente – e, tendo eu sido criada no seio da direita mais tradicional e aristocrática possível, diria que as desigualdades sociais e a forma como são tratados os pobres é o critério para determinar se se é de esquerda ou de direita”, p.132). Entende que a direita naturaliza aqueles problemas sociais. Considera “muito injusta” a forma como os portugueses ricos olham para os mais pobres (e “os meus amigos não faziam a tropa (…) As pessoas com acesso ao poder, os filhos dos ricos, não iam para Angola” [durante o tempo da guerra colonial], p.128). Curiosamente, por várias vezes, ao longo do diálogo com João Céu e Silva afirma-se nem de esquerda, nem de direita (“não estou à direita, nem à esquerda”, p.195, do mesmo modo que nem monárquica, nem republicana) [digamos, o oposto, por exemplo, de quem verbaliza a ideia de ser, simultaneamente, “de esquerda” e de “direita”, de ter, na sua visão de mundo, coisas de ambos os pólos ideológicos, noção perfilhada e popularizada nos anos mais recentes por Macron]. Antes, assume-se como “liberal”, não quer o Estado metido em tudo. Reclama-se de Adam Smith – compreende como errada uma leitura de absoluto non faccere, pelo Estado, fundada neste autor, recordando “A teoria dos sentimentos morais” – e de John Stuart Mill. Votou, ao longo dos anos, social-democrata representada no PS (de quem se sente afastada, atualmente: “acho [que o actual governo] é muito médio. O primeiro-ministro não é uma pessoa que tenha feito enormes disparates, parece habilidoso pela simples razão de ainda lá estar, mas não tenho qualquer espécie de atracção pelas suas políticas, nem pela forma como contacta com os portugueses”, p.66; sobre o ex-líder da oposição, Rui Rio, é mais cáustica: “poderia até dizer-se que era «pago» pelo António Costa para mostrar tanta inépcia (…) só dizia vacuidades”, p.176; em Pacheco Pereira, há muito descobriu um homem culto, Jorge Sampaio digno e “fez o que tinha que fazer”, Mariana Mortágua “preparada”). Não apenas não adere ao habitual slogan (vazio) que reclama “reformas estruturais” para o país, como as afasta mesmo: “isso não passa de um slogan, daí que ache o contrário. Devem fazer-se reformas minúsculas e tão graduais que quase não se dê por elas” (p.74). Na política internacional, errou ao apoiar a guerra do Iraque – não sou boa em política internacional, reajo mais emocionalmente, mas ao fim de 10 dias corrigi a posição, nota, qualificando como “estúpido” o seu posicionamento inicial sobre o assunto -, e não segue ao detalhe a política nacional e os seus estafados telejornais.
Há alguns momentos, dos diálogos com João Céu e Silva, em que Maria Filomena Mónica tece juízos que se nos apresentam eivados de um simplismo e de um preconceito (por exemplo, face à imagem que alguém apresenta) que, porventura, não se esperaria (ou, dito de outra forma, exigir-se-ia que não o houvesse), de alguém com a sua formação académica (ou como um preconceito social se sobrepõe a essa dimensão): o advogado Magalhães e Silva, porque, no seu entender, muito bem vestido e composto na televisão, dá-lhe, imediatamente, a noção de alguém muito competente [competência que aqui não está, evidentemente, em causa, mas apenas uma relação causa-efeito entre o bom corte de um fato e a competência profissional de alguém] (depois, claro, conclui que “não tem nada a ver”); o modo como, de uma penada, e, confessando, sem leituras bastantes da sua obra, despacha Eduardo Lourenço (a pomposas elucubrações); ou como não lhe interessa Sophia, porque há umas décadas a encontrou e a achou “antipática” (e, portanto, não lhe interessa, mas não "por razões literárias").
Quando Filomena Mónica elabora sobre o (hodierno) modo de vivência do amor – “aquilo que para as pessoas da minha geração era essencial, o amor de um homem, para as jovens de hoje ainda é importante, mas não fundamental. Querem mesmo é ter uma carreira, ganhar dinheiro e ser autónomas” (p.97) -, interrogamo-nos sobre se esta declinação deve ser lida, exclusivamente, no feminino e, outrossim, quando denuncia, ainda, o interesse masculino pelo “corpo” feminino (e, diversamente, pela relação toda, de “corpo e alma”, do feminino face ao masculino) até que ponto esta indicação mantém pertinência e atualidade (não é apenas o “empirismo do quotidiano”, ou o provocador narrador de Houellebecq – “para as mulheres, os homens são pénis ambulantes”, a passagem, ou até o desaparecimento do “és boa como o milho” ao mais actual “és um pão”, como escreve o psiquiatra Pio de Abreu, que ensaiou, controvertidamente mas não de modo a poder deixar-se de o ler e a recusá-lo sem mais, o no man’s land em que os homens se instalaram ou a que foram remetidos).
Nos últimos 40 anos, Orwell foi o autor que mais influenciou Maria Filomena Mónica (p.231), uma mulher que não se considera “solar” – “não sou particularmente dotada para a felicidade; a minha felicidade dura mais ou menos cinco minutos, em seguida, arranjo logo maneira de ver trevas à minha volta” (p.241) – e lamenta não ter tido educação musical; aos 40 anos, percebeu que “o maior prazer” da sua vida era ler (p.279); o conceito de “superioridade moral” arrepia-a e “não acho que seja possível ter superioridade moral em relação a ninguém” (p.249); entende a Justiça como “o maior falhanço do país” (p.209), revela o “nojo” que sentiu, há décadas, quando ditos “católicos progressistas” se envolviam e convidavam para orgias (surpreende-nos aqui com o envolvimento de João Benárd da Costa), elogia e sente-se confortada com o companheiro António Barreto e explica que a figura do Zé Povinho não tem o significado que muitos portugueses lhe conferem: “julgam que está a exprimir um gesto de revolta ou até de reivindicação, quando o que faz é ser subserviente diante do patrão e de seguida esconder-se na cozinha e fazer manguitos. É como em muitas das caricaturas do Bordalo, em que o povo aparece sempre bem-comportado diante do amo e nas costas diz palavrões. Os portugueses não percebem o significado daquela cara rosada e com um ar saloio” (p.239).
Se a saudade (o sentimento de) não é um exclusivo português, o que (novamente) importa refutar circunstanciando – “é uma ideia que faz parte do que se transmite em gerações sucessivas e ninguém a quer contestar. Não é só nossa e existem palavras que designam o mesmo fenómeno noutras línguas – os turcos têm uma palavra, ozlem, que exprime o mesmo. O que é explicável em povos que tinham muita emigração, como é o nosso caso e o do País Basco, que também tem um termo como o mesmo significado [herri-mina] (p.109)” -, por outro lado, Mena Mónica, como prefere ser tratada, aceita fazer generalizações acerca dos portugueses (que, regista, assumirão, em boa medida, uma feição de tipo melancólico, mesmo que, e em simultâneo, diga que “não acho que exista uma coisa chamada Portugal, afirmar que Portugal é assim ou assado é um disparate”, p.112): “temos um olhar triste e vamos para a cama muito cedo [iremos, mesmo, neste tempo de insónias e redes sociais omnipresentes?]. Basta que nos comparemos aos espanhóis, cuja alegria é chocante para quem vai de Portugal. Há qualquer coisa nobre na melancolia, que é a percepção de a vida ser curta e não necessariamente fácil, portanto é o olhar para uma vida finita. Os países que têm uma grande emigração e são pobres podem ser melancólicos e líricos. Isso contrasta muito com o que se passa em Espanha, que (…) possui uma consciência imperial mais alegre” (pp.113-114). A maioria da população portuguesa, na percepção da investigadora, é “inculta, pobre, invejosa” (p.24; a população inglesa analfabeta, em 1640, era a mesma do que a portuguesa três séculos volvidos); possíveis heróis nacionais não o são (verdadeiramente) por, desde logo, ignorância: mesmo Camões, “nem suscita ódios ou admiração” (por “desconhecimento”). Eça de Queiroz – sobre o qual escreveu uma biografia, com recensões no Times Literary Supplement ou na New York Review of Books, e que lhe custou forte tensão com alguns dos mais renomados queirosianos da nossa academia [o choque maior com Carlos Reis] - é o português que mais admira (p.27), contrariando, com essa postura (“Eça é o homem da minha vida”), uma certa lógica nacional: “em Portugal, quando as pessoas morrem são logo esquecidas” (p.28). Em vez de “Os Maias”, obra “muito difícil e longa”, de Eça de Queiroz – “fechado, altivo, tinha-se em muito boa consideração” (p.48), mas não era snobe; “bastante púdico e reservado a nível emocional” (p.60), oriundo de uma família de juristas, cursou Direito; trabalhou no jornalismo mas dedicou-se, em definitivo à diplomacia; estava sempre a precisar de dinheiro, frequentador de bordéis, era contrário à União Ibérica e, em carta privada a amigo brasileiro, manifesta-se contra o tratamento dado pelos franceses a Dryfus; não é certo que não se interessasse pelos pobres, tendo, enquanto cônsul de Havana, enviado relatórios sobre o modo como eram tratados os imigrantes chineses pelos fazendeiros espanhóis (“tratados como cães”), alertando para os vistos passados pelas autoridades portuguesas; e no âmbito da escrita, o absoluto domínio da ironia, “arte que muito poucos escritores portugueses” alcançam (pp.50-51), o maior e melhor escritor português moderno (p.55) - entende que “O crime do padre Amaro” ou “Alves e Companhia” poderiam ser propostos para leitura dos alunos portugueses do Ensino Secundário (deixando-se, simultaneamente, a formatação de se seguir os livros de resumos como até aqui). Maria Filomena Mónica dará algumas aulas sobre Eça de Queiroz [que, já agora, não escreveu a frase, na atualidade tantas vezes partilhada nas redes sociais, mas apócrifa ‘Os políticos e as fraldas são semelhantes, porque possuem o mesmo conteúdo’ – “alguém a inventou, pô-la a circular e os portugueses gostaram e acreditaram que era dele”, p.73], no Ensino Superior, mas ninguém queria ler “uma única linha do autor (…) Recusaram-se a ler um livro sequer durante o semestre letivo e isso fez-me perguntar o que estava ali a fazer” (p.91). Esta passagem de “Uma longa viagem com Maria Filomena Mónica”, fez-me recordar aquilo que Onésimo Teotónio de Almeida costuma registar sobre convites de universidades portuguesas (para que o académico dê uma dada formação, um seminário, etc.) e da proposta de leitura…que redunda, em chegando ao concreto contacto com universitários, “na terceira vez que a mesma avó morreu” [todo o tipo, ou recorrência, de desculpas para nunca se ler, nomeadamente o livro combinado, para que o agendado diálogo possa ocorrer, e os receptores-interlocutores (previstos para o mesmo) estejam dentro da matéria sobre a qual se discorrerá…exemplo muito contrastado com a experiência que o Professor tem com os seus alunos na Brown]. Sem embargo, pontua Filomena Mónica, não “me venham com tretas a dizer que os jovens são todos umas bestas porque não é verdade, atualmente a escolaridade é muito diversificada e, em percentagem, há muito mais jovens cultos hoje do que no meu tempo” (p.109).
Maria Filomena Mónica não apenas traça um quadro comparativo entre portugueses e outros povos (tidos, pela investigadora, como mais “alegres” ou “vivos” do que estes, como acabámos de observar), como deixa uma antinomia entre o que reclama das “elites” e o que compreende no “povo”: “estudar História de Portugal dá trabalho, tem de se ler, coisa que a maior parte dos portugueses não faz porque ganha pouco e tem uma vida difícil. O que me custa é a elite ser tão analfabeta” (p.136). Aliás, significativamente, os discursos na Assembleia da República são maus “devido à falta de cultura e de valorização da retórica” (p.192).
Há, nos portugueses, um medo pequeno-burguês de que se assinale algo que correu mal ou possa envergonhar ao longo (do relato) da vida (daquela dada pessoa [falando esta na primeira pessoa]) – apesar de todos os mortais, ao longo da sua existência, aqui como em qualquer outra parte do mundo, passarem por momentos de “sucessos e [de] falhanços” (p.36) -, o que faz com que as auto-biografias que por cá campeiem sejam aborrecidas (na medida, pois, reitera-se, em os que se olham ao espelho público rasuram tudo o que não condiga/condiz com o exitoso). Preferimos que “não se fale bem nem mal” de nós (p.30). Eis o motivo, também, pelo qual causou tanto “escândalo” no país a (porém, ou talvez por consequência, constantemente reeditada) auto-biografia de Maria Filomena Mónica (“Bilhete de Identidade”, Aletheia, 2005), de “portas escancaradas” e, portanto, sendo contraponto ao lero-lero habitual. O escritor e jornalista João Céu e Silva assinala, a propósito: se o leitor resistir a uma redutora apropriação voyeurística de Bilhete de Identidade, poderá compreender como no destapar da vida da autora se oferece muito mais - um considerável e conseguido retrato de uma época e de uma geração (em especial, aquela situada entre as “classes altas” da população portuguesa, ao tempo do Estado Novo; critério, este, o de fornecer um retrato e compreensão de uma época, aliás, justamente sublinhado por Vasco Pulido Valente, na série de entrevistas com Céu e Silva, como aferidor de uma boa (auto) biografia). Filomena Mónica inspira-se em Mary McCarthy (ativista de esquerda norte-americana que publicara “Memories of a Catholic Girlhood”, de 1957; correspondeu-se, celebremente, com Hannah Arendt) nessa exposição do “eu” – “chocou os portugueses, porque a maior parte dos ensaístas não usa a primeira pessoa no que escreve” (p.30) -, entre vários outros autores do mundo anglo-saxónico, onde este tipo de escrita e revelação são frequentes (e não anatemizadas). Se em tempos de grande exposição em linha se questiona, e muito, neste século, o fim da privacidade (ou a reconfiguração do público/privado, mesmo que ao longo dos tempos, da humana caminhada, menos humanos do que se possa pensar tivessem tido direito a uma clara esfera privada protegida do olhar ou conhecimento dos demais) como valor civilizacional (deitado, agora, fora, voluntária ou inconscientemente), a confiança dos mais próximos adquirida, em alguns casos pelo menos, pela perspectiva da não exposição (futura) do passado em conjunto (legitimidade de exposição de terceiros e sua intimidade, arguida como inexistente, pelos críticos de “Bilhete de Identidade”), esta opção suscitou sérios debates e dilemas (permanecerá a mágoa em Filomena Mónica as amizades definitivamente perdidas, como a que sucedeu com VPV – que, todavia, estaria, durante a redacção destas, a par, e inclusivamente encorajaria, estas ‘memórias’ -, para lá das feridas com a própria família).
Aquela que foi (é?) a “rapariga de minissaia, loura e gira” irrita-se com o facto de (que), num instante, “somos todos pedófilos e vítimas de assédio sexual”; no entanto, fazendo jus à sua “fama” de mulher forte (uma carapaça para o exterior, sendo a retratada mais frágil do que se pensa, sublinha, p.252), sem vitimizações fáceis – embora não deixe de vincar que “lutei o dobro do que teria lutado se fosse homem” (p.20), refere que a (única) vez na vida em que foi objeto de uma tentativa de violação, repeliu o agressor com um pontapé e este fugiu (p.93).
António de Oliveira Salazar “compreendeu muito bem quem eram os portugueses”: sendo de origem camponesa, sabia-os “desconfiados, poupadinhos e com um pé de meia, e não queriam agitações”, valorizando a “religião” (p.34). Salazar foi “um dos piores portugueses e ao mesmo tempo um dos mais inteligentes”, alguém que “escrevia muito bem” (p.33). Ainda assim, “uma prosa antiquada e fradesca”, à qual, de resto, nem a melhor literatura portuguesa escapa (“a escrita portuguesa, mesmo a melhor, é muito pretensiosa”, p.37). O Presidente do Conselho, porém, ao contrário do que tantas vezes se repete, não era “imune a cunhas”: “isso é falso, dependiam da origem. Em princípio, não gostava que lhe fizessem pedidos, porque era soberbo, mas quando a ponte sobre o Tejo chega a Alcântara tem um desvio esquisito, e porquê? Porque os marqueses de Sabugosa tinham ali uma quinta grande e não queriam que os pilares destruíssem o jardim. E o Salazar cedeu para que não ficassem aborrecidos” (p.35) [cf. “Salazar confidencial. A história secreta da rede de cunhas e favores do Estado Novo”, Marco Alves, Ideias de Ler, 2023]. Não houve um escritor que “retratasse bem a ‘alma portuguesa’; no máximo, o Jacinto de “A Cidade e as serras”” (p.265).
Sem feitio para militante de grupo, esteve 30 anos sem ir a uma festa (e há 5 que não saía de casa, agora que tem cancro - tendo recentemente estado em jantar a convite do Presidente da República).
Na Universidade “não aprendi nada”, com excepção, já à beira da conclusão da licenciatura (4º ano de faculdade), de uma cadeira, ministrada por um professor espanhol que, em lhe fazendo uma prova oral sobre Leibniz, a questionou se estaria a “gozar” com ele (dado o conjunto de generalidades e invenções a que recorria, sem nada de concreto e substantivo atinente ao autor referir – ao que Mena protestará, indicando que tal método lhe tinha permitido sempre passar e fazer boa figura. A personalidade que como professor admirará, pela cultura clássica exibida, seria a do Padre Manuel Antunes. Diversamente, Jorge Borges de Macedo, com “uma costela sádica”, foi “o professor que mais me aterrorizou na Faculdade de Letras”, p.29). Em Oxford (para onde vai estudar a Sociologia que Salazar aqui proibia – como proibida era, por exemplo, na Grécia da ditadura dos coronéis) é obrigada a ler, sistematicamente, novos livros e, nessa decorrência, adquirirá um grande interesse pela investigação em História (apesar do doutoramento em Filosofia). História que é, ainda e contudo, confessa, uma forma (psicológica) de compensação: “quando estou desiludida com o meu país, volto ao passado” (pp.239-240).
Politicamente, Maria Filomena Mónica entende que aquilo que distingue esquerda e direita é o tratamento dado à pobreza e desigualdade (“a definição do que é ser de direita e de esquerda foi vaga e estranha desde a origem, porque derivava do lugar em que os constituintes franceses se sentavam na Assembleia Nacional Legislativa após a Revolução Francesa. Não era uma definição ideológica desses grupos e, como era uma revolução muito tumultuosa, em que os heróis caíam todos os dias, é difícil dizer se Danton era mais à esquerda ou mais à direita. O que interessava era que o Robespierre não gostava dele e por isso acabou na guilhotina. Eles estavam contra o poder monárquico e foi uma revolução sangrenta, o que impede de aplicar os termos «direita» e «esquerda» à Revolução Francesa. Eu continuo a achar que existe esquerda e direita – em Portugal existe certamente – e, tendo eu sido criada no seio da direita mais tradicional e aristocrática possível, diria que as desigualdades sociais e a forma como são tratados os pobres é o critério para determinar se se é de esquerda ou de direita”, p.132). Entende que a direita naturaliza aqueles problemas sociais. Considera “muito injusta” a forma como os portugueses ricos olham para os mais pobres (e “os meus amigos não faziam a tropa (…) As pessoas com acesso ao poder, os filhos dos ricos, não iam para Angola” [durante o tempo da guerra colonial], p.128). Curiosamente, por várias vezes, ao longo do diálogo com João Céu e Silva afirma-se nem de esquerda, nem de direita (“não estou à direita, nem à esquerda”, p.195, do mesmo modo que nem monárquica, nem republicana) [digamos, o oposto, por exemplo, de quem verbaliza a ideia de ser, simultaneamente, “de esquerda” e de “direita”, de ter, na sua visão de mundo, coisas de ambos os pólos ideológicos, noção perfilhada e popularizada nos anos mais recentes por Macron]. Antes, assume-se como “liberal”, não quer o Estado metido em tudo. Reclama-se de Adam Smith – compreende como errada uma leitura de absoluto non faccere, pelo Estado, fundada neste autor, recordando “A teoria dos sentimentos morais” – e de John Stuart Mill. Votou, ao longo dos anos, social-democrata representada no PS (de quem se sente afastada, atualmente: “acho [que o actual governo] é muito médio. O primeiro-ministro não é uma pessoa que tenha feito enormes disparates, parece habilidoso pela simples razão de ainda lá estar, mas não tenho qualquer espécie de atracção pelas suas políticas, nem pela forma como contacta com os portugueses”, p.66; sobre o ex-líder da oposição, Rui Rio, é mais cáustica: “poderia até dizer-se que era «pago» pelo António Costa para mostrar tanta inépcia (…) só dizia vacuidades”, p.176; em Pacheco Pereira, há muito descobriu um homem culto, Jorge Sampaio digno e “fez o que tinha que fazer”, Mariana Mortágua “preparada”). Não apenas não adere ao habitual slogan (vazio) que reclama “reformas estruturais” para o país, como as afasta mesmo: “isso não passa de um slogan, daí que ache o contrário. Devem fazer-se reformas minúsculas e tão graduais que quase não se dê por elas” (p.74). Na política internacional, errou ao apoiar a guerra do Iraque – não sou boa em política internacional, reajo mais emocionalmente, mas ao fim de 10 dias corrigi a posição, nota, qualificando como “estúpido” o seu posicionamento inicial sobre o assunto -, e não segue ao detalhe a política nacional e os seus estafados telejornais.
Há alguns momentos, dos diálogos com João Céu e Silva, em que Maria Filomena Mónica tece juízos que se nos apresentam eivados de um simplismo e de um preconceito (por exemplo, face à imagem que alguém apresenta) que, porventura, não se esperaria (ou, dito de outra forma, exigir-se-ia que não o houvesse), de alguém com a sua formação académica (ou como um preconceito social se sobrepõe a essa dimensão): o advogado Magalhães e Silva, porque, no seu entender, muito bem vestido e composto na televisão, dá-lhe, imediatamente, a noção de alguém muito competente [competência que aqui não está, evidentemente, em causa, mas apenas uma relação causa-efeito entre o bom corte de um fato e a competência profissional de alguém] (depois, claro, conclui que “não tem nada a ver”); o modo como, de uma penada, e, confessando, sem leituras bastantes da sua obra, despacha Eduardo Lourenço (a pomposas elucubrações); ou como não lhe interessa Sophia, porque há umas décadas a encontrou e a achou “antipática” (e, portanto, não lhe interessa, mas não "por razões literárias").
Quando Filomena Mónica elabora sobre o (hodierno) modo de vivência do amor – “aquilo que para as pessoas da minha geração era essencial, o amor de um homem, para as jovens de hoje ainda é importante, mas não fundamental. Querem mesmo é ter uma carreira, ganhar dinheiro e ser autónomas” (p.97) -, interrogamo-nos sobre se esta declinação deve ser lida, exclusivamente, no feminino e, outrossim, quando denuncia, ainda, o interesse masculino pelo “corpo” feminino (e, diversamente, pela relação toda, de “corpo e alma”, do feminino face ao masculino) até que ponto esta indicação mantém pertinência e atualidade (não é apenas o “empirismo do quotidiano”, ou o provocador narrador de Houellebecq – “para as mulheres, os homens são pénis ambulantes”, a passagem, ou até o desaparecimento do “és boa como o milho” ao mais actual “és um pão”, como escreve o psiquiatra Pio de Abreu, que ensaiou, controvertidamente mas não de modo a poder deixar-se de o ler e a recusá-lo sem mais, o no man’s land em que os homens se instalaram ou a que foram remetidos).
Nos últimos 40 anos, Orwell foi o autor que mais influenciou Maria Filomena Mónica (p.231), uma mulher que não se considera “solar” – “não sou particularmente dotada para a felicidade; a minha felicidade dura mais ou menos cinco minutos, em seguida, arranjo logo maneira de ver trevas à minha volta” (p.241) – e lamenta não ter tido educação musical; aos 40 anos, percebeu que “o maior prazer” da sua vida era ler (p.279); o conceito de “superioridade moral” arrepia-a e “não acho que seja possível ter superioridade moral em relação a ninguém” (p.249); entende a Justiça como “o maior falhanço do país” (p.209), revela o “nojo” que sentiu, há décadas, quando ditos “católicos progressistas” se envolviam e convidavam para orgias (surpreende-nos aqui com o envolvimento de João Benárd da Costa), elogia e sente-se confortada com o companheiro António Barreto e explica que a figura do Zé Povinho não tem o significado que muitos portugueses lhe conferem: “julgam que está a exprimir um gesto de revolta ou até de reivindicação, quando o que faz é ser subserviente diante do patrão e de seguida esconder-se na cozinha e fazer manguitos. É como em muitas das caricaturas do Bordalo, em que o povo aparece sempre bem-comportado diante do amo e nas costas diz palavrões. Os portugueses não percebem o significado daquela cara rosada e com um ar saloio” (p.239).
Pedro Miranda

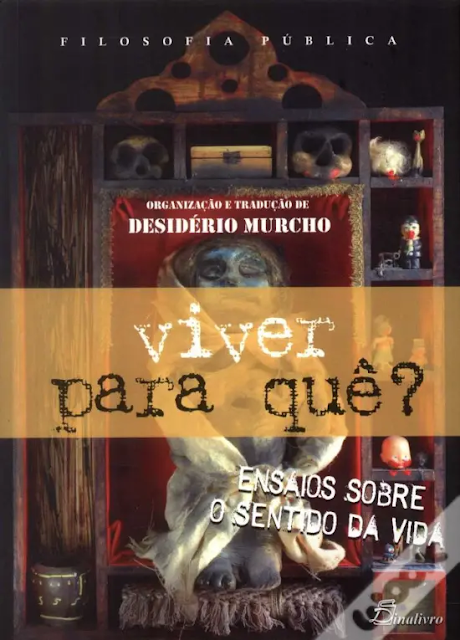

Comentários
Enviar um comentário